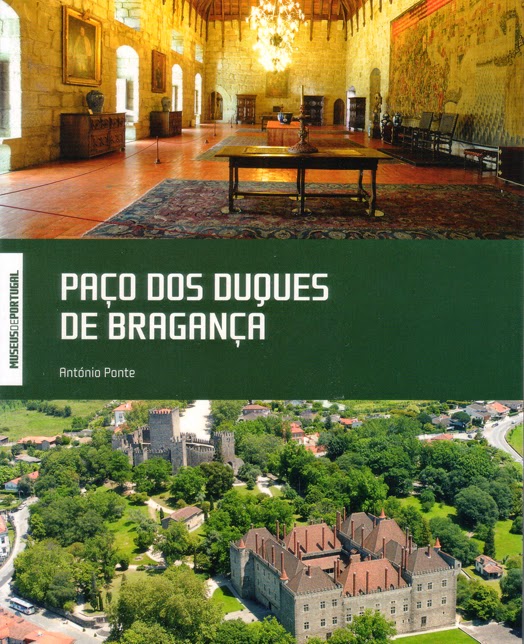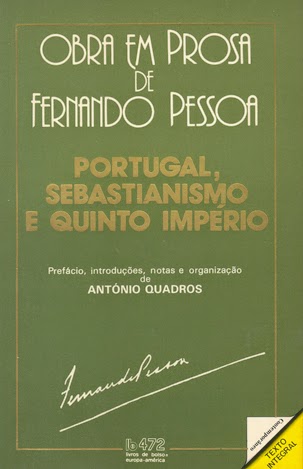O País descobriu agora que para manifestar o seu agradecimento aos militares de Abril (vaguíssima definição já em 1974 e que quarenta anos depois muito mais vaga se tornou) a Associação 25 de Abril deveria poder falar na Assembleia da República.
Estranho que não tenham sentido esse apelo noutros aniversários mas a minha questão é outra: onde e quando manifestarão os militares o seu agradecimento ao País? Porque não é apenas o País que está em dívida para com os militares.
Os militares também estão em dívida para com o País. E não lhe devem pouco. Não, não falo das reformas, das comissões e de questões materiais. Falo de honra, coisa sem preço e que os militares não podem dispensar. Durante estes quarenta anos os civis têm sido o conveniente bode expiatório da forma como as Forças Armadas Portuguesas (ou parte delas) conseguiram impor que se saísse de África e de Timor: abandonando as populações, prendendo líderes de partidos não conformes aos movimentos que os militares portugueses tinham definido como interlocutores, entregando cidadãos portugueses a alguns desses movimentos, transferindo informações militares classificadas para os grupos que pretendiam favorecer (nesta última matéria vale sempre a pena ouvir e ler os depoimentos provenientes de Cuba)…
Por mais levianas que tenham sido (e foram!) algumas das declarações e iniciativas dos políticos, nomeadamente de Mário Soares enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, a verdade é que nenhuma equipa de negociadores consegue negociar o que quer que seja quando do outro lado da mesa lhe explicam, como fez o PAIGC em Argel, em Junho de 1974, que independentemente daquilo que as delegações portuguesas declarassem e daquilo que o Governo e o Presidente da República decidissem, o PAIGC receberia num curto prazo o poder pois quanto mais não fosse o MFA da Guiné tal imporia a Lisboa. E o que fazer quando, como aconteceu em Lusaka, o chefe da delegação portuguesa, Mário Soares, enquanto insiste com a delegação da Frelimo que antes de tudo – e o tudo era a exigência por parte da Frelimo de ser reconhecida como único interlocutor nas negociações com vista à independência – havia que obter um cessar-fogo, ouve o militar que Spínola enviara para o acompanhar nestas negociações, Otelo Saraiva de Carvalho, dizer diante de todos: “Não insista, dr. Soares, as nossas tropas e as da FRELIMO já estão a confraternizar em vários teatros de operações!” Aquilo que Otelo define como “confraternizar em vários teatros de operações!” levou no Verão de 1974 o País a um dilema entre defender os interesses do País ou defender as suas Forças Armadas.
Em boa verdade o país não tinha escolha: havia que defender as Forças Armadas. De quem? Delas mesmas. Mesmo que tal implicasse pactuar com quem atacava os interesses do País e desdenhava das suas populações mais frágeis, os civis residentes nos territórios africanos. Desfeita a hierarquia de comando nas FAP, só os sectores esquerdistas pareciam capazes de garantir um mínimo de ordem e salvar as aparências entre as tropas estacionadas em África.
Daí chegavam histórias que o País não podia conhecer a bem já não da nação mas sim das suas Forças Armadas. Comandantes que por iniciativa e ideologia próprias resolviam confraternizar ou dialogar com os mesmos que combatiam na véspera e que levaram as suas companhias a cair emboscadas com mortos, feridos e sequestrados (Bambandica, Guiné). Tropas portuguesas feitas reféns e tratadas de forma humilhante pelos seus captores (Omar, Moçambique; Nova Lisboa, Angola). Histórias de soldados portugueses capturados e obrigados a desfilar em cuecas diante de movimentos independentistas aterrorizam no Verão de 1974 as chefias militares em Lisboa. Verdadeiras ou não essas histórias terão sido usadas para pressionar os negociadores portugueses, nomeadamente aqueles que em Dar-es-Salam negociavam a independência de Moçambique encafuados em quartos de hotel tão bem ou mal escolhidos (depende do ponto de vista!) que os negociadores portugueses, entre os quais se contava Melo Antunes, não só não conseguem comunicar com Lisboa como nem sequer conseguiam comunicar entre si. Aos militares tem sido fácil desculparem-se com os civis.
As histriónicas manifestações onde se gritava “Nem mais um soldado para as colónias” fazem sempre o papel de radical útil. Afinal sempre é mais fácil invocar os MRPP’s aos gritos (MRPP’s que os mesmos militares não tiveram problema algum em prender meses depois numa fase bem mais complicada) do que referir os telegramas que eram enviados dos quartéis de Angola, Moçambique e Guiné para Lisboa para pressionar Spínola e os negociadores a aceitarem como seus únicos interlocutores no processo a que chamava e chama descolonização, o PAIGC, a FRELIMO, o MPLA, a FNLA e a UNITA, telegramas esses em que se lia: “Ou assinam os acordos de paz, ou rendemo-nos todos.” Os militares portugueses devem ao País terem conseguido sair de forma honrada de um dos momentos mais tenebrosos da sua história – a forma como impuseram a saída de África e de Timor – e devem-lhe também poderem manter a mentira conveniente de que em Abril estavam unidos. Não é verdade: estiveram unidos na guerra. Mas dividiram-se criminosa e perigosamente na hora de negociar a paz. Por isso ainda hoje se sentem mais à vontade a falar da ditadura e da guerra do que da democracia e dos países independentes.